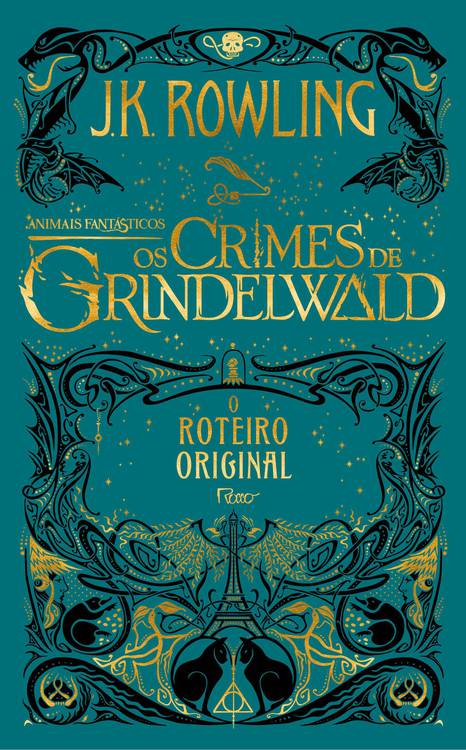Com sua estreia na Fantastic Four #52, em julho de 1966, Pantera Negra comprovava mais uma vez a capacidade dos quadrinhos de captar a situação social ao traduzir em cores e ação o Movimento pelos Direitos Civis nos EUA. Mais de 50 anos depois, o herói ganha seu filme solo não apenas para atender a necessidade por diversidade e representatividade no cinema. Pantera Negra é um manifesto cultural, sem medo de falar sobre as questões raciais nos EUA, passadas e atuais, ao mesmo tempo em que faz um filme de super-herói empolgante e universal.
Ryan Coogler, o diretor (também responsável por Creed: Nascido para Lutar e Fruitvale Station: A Última Parada), diz que, apesar da estrutura de blockbuster, esse é seu filme mais pessoal. “Para mim, lida com a pergunta que tenho me feito desde que era jovem: o que significa ser africano?”, explica. O aprendizado do cineasta, que escreve o roteiro ao lado de Joe Robert Cole, é traduzido no encantamento por Pantera Negra e seu universo. A “fórmula da Marvel” se torna uma oportunidade de gritar mais alto, permeando a linguagem preeestabelecida por um poderoso subtexto.
Até mesmo o vilão, uma questão problemática no universo cinematográfico da Casa das Ideias desde Homem de Ferro (2008), é usado a favor da trama. Erik Killmonger (Michael B. Jordan) é o reflexo de T’Challa (Chadwick Boseman), mas Coogler subverte positivamente o clichê do herói contra si mesmo para estabelecer um paralelo rico e oportuno. Killmonger não é apenas um obstáculo a ser superado para que o Pantera acredite na própria força. Ele é o outro lado da moeda, uma oportunidade de reflexão sobre o legado de Wakanda e o alcance da sua responsabilidade. As ações do passado, tomadas por T’Chaka (John Kani) e N’Jobu (Sterling K. Brown), o pai de Killmonger, reverberam no presente, mas cabe a nova geração levar a nação adiante. Da sua imagem espelhada, T’Challa confronta erros para ser não apenas um herói, mas um líder melhor.
Esse peso social que Pantera Negra carrega em cada cena, desde o prólogo que explica em minutos todos os conceitos necessários para o entendimento da história, não interfere na sua capacidade de entreter. Com um roteiro redondo, Clooger e Cole posicionam personagens e situações para encontrar leveza. Shuri (Letitia Wright), a irmã mais nova de T’Challa, Garra Sônica (Andy Serkis), o vilão apresentado em Vingadores: Era de Ultron, e o agente Everett K. Ross (Martin Freeman) são responsáveis pelo humor mais descarado, mas a boa construção dos personagens evita que as piadas sejam gratuitas. É o que também explica a ausência de coadjuvantes descartáveis no filme. Um micro universo é criado em torno da espiã Nakia (Lupita Nyong’o), da líder das Dora Milaje Okoye (Danai Gurira), dos guerreiros M’Baku (Winston Duke) e W’Kabi (Daniel Kaluuya), e da rainha-mãe Ramonda (Angela Bassett), de forma que suas existências não se limitam às necessidades do protagonista. Mais do que criar Wakanda, é preciso povoá-la.
A consistência dada aos personagens pelo roteiro e as atuações contorna a insegurança de Coogler ao trabalhar com efeitos visuais. Fica claro no contraste entre as cenas externas em Wakanda e nas ruas da Coreia do Sul que o diretor fica mais à vontade em espaços práticos e urbanos, onde dá agilidade às cenas de ação, seja em um cassino clandestino ou em uma perseguição de carros. Quando precisa lidar com o Chroma Key para dar vida ao país fictício, os cenários perdem a profundidade, a câmera não se arrisca, tornando óbvio o uso da computação gráfica. Cabe ao colorido figurino de Ruth E. Carter, baseado nas artes de Jack Kirby, a tarefa de dar personalidade à nação, criando tribos e líderes para um mundo tão tecnológico quanto ancestral. A trilha de Ludwig Göransson, com consultoria musical de Kendrick Lamar, também trabalha dentro desse conceito, misturando sons convencionais e músicas africanas.
Coogler encara Pantera Negra como uma declaração da importância do imaginário na formação de uma sociedade plural e inevitavelmente faz um filme histórico. Seu herói é forte, ágil, justo e está pronto para ser admirado por uma geração de crianças e adultos e se tornar uma das figuras centrais no futuro do universo cinematográfico da Marvel.
Pantera Negra (2018)
(Black Panther)
- País: EUA
- Classificação: 14 anos
- Estreia: 15 de Fevereiro de 2018
- Duração: 134 min.
Nota do crítico: (Ótimo)
(Ótimo)